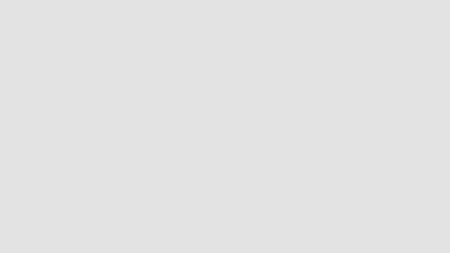STEFHANIE PIOVEZAN
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há 40 anos, a revista Science publicava a descoberta de um vírus. Tratava-se de um agente infeccioso encontrado nos gânglios linfáticos de um paciente atendido no hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, com sinais e sintomas frequentemente associados à Aids.
O artigo era encabeçado pelos pesquisadores franceses Luc Montagnier e Françoise Barré-Sinoussi, premiados mais tarde com o Nobel de Medicina pela revelação, e assinado por mais dez cientistas.
No texto, o grupo afirmava que o novo vírus, batizado em 1986 de HIV (vírus da imunodeficiência humana), poderia estar envolvido no desenvolvimento da síndrome, na época um grande mistério.
"A imprensa chamava de câncer-gay", lembra a infectologista Zarifa Khouri. Em 1983, ela era residente no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e atendeu alguns dos primeiros pacientes com Aids no país.
"O primeiro caso que atendi foi de um rapaz que era cabeleireiro e tinha frequentado saunas gays nos Estados Unidos. Ele deu entrada com diarreia e os professores diagnosticaram febre tifoide, mas não batia porque em adultos a febre tifoide provoca intestino preso", recorda.
Ninguém sabia o que o homem tinha. Passados alguns dias, surgiram manchas roxas em seu calcanhar e na testa, e a equipe lembrou que as reportagens sobre a tal doença relatavam que os pacientes com frequência desenvolviam um tipo de câncer chamado sarcoma de Kaposi.
Leia Também: Líderes fazem pacto para acabar com Aids em crianças até 2030
A equipe se questionava: seria Aids? Mas ainda não havia um teste para confirmar e nem antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no organismo. Assim, o caso continuou se agravando. Surgiu uma pneumonia e o homem morreu na UTI, com quadro de insuficiência respiratória.
"O que conseguíamos era tratar as infecções oportunistas e esses pacientes iam falecendo. Era uma sentença de morte. Quando eles descobriam que eram soropositivos, largavam a faculdade, largavam tudo", afirma Khouri.
Ninguém entendia como a doença era transmitida, e os próprios médicos tinham medo de colocar as mãos nos pacientes. O contato com as visitas era feito por uma abertura na parede e a pergunta "Quanto tempo eu tenho de vida?" era frequente.
"Às vezes, saíamos para tomar um café do outro lado da rua e nos deparávamos com pacientes se jogando pela janela, cometendo suicídio", conta a médica.
No caso das mulheres diagnosticadas com o vírus, a recomendação era a laqueadura, já que não havia controle da transmissão entre mãe e bebê.
"Um dia, eu estava no pronto-socorro e um casalzinho jovem, de 14, 15 anos, veio conversar. Eles eram usuários de drogas injetáveis, muito comuns naquela época, e pediram para não contar para ninguém que eles tinham HIV porque senão os dois seriam linchados na favela em que moravam. A discriminação era muito, muito grande", lembra a médica entre lágrimas.
COQUETEL E DESAFIOS
O cenário começou a mudar em 1991, quando o mundo tinha 10 milhões de pessoas infectadas, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), e o Brasil somava 11.805 casos.
Foi nesse ano que o Ministério da Saúde deu início à distribuição gratuita de antirretrovirais. No ano seguinte, a combinação de AZT e Videx inaugurou o primeiro coquetel anti-Aids do país e, daí para frente, a inclusão de novos medicamentos aumentou a expectativa e a qualidade de vida dos pacientes.
"Com o coquetel, a pessoa já não tinha mais um tempo de vida definido", compara Khouri. Ainda assim, os primeiros remédios provocavam diarreia e a perda de gordura no rosto evidenciava quem tinha a doença.
Outras mudanças foram o controle da transmissão entre mãe e bebê e, mais recentemente, o uso profilático dos antirretrovirais antes e após a exposição ao vírus. "Nosso maior desafio hoje é acertar na prevenção para diminuir o número de infecções", avalia a médica.
José Valdez Madruga, coordenador do comitê científico de HIV/Aids da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), cita outro obstáculo: a permanência do estigma. "Vemos famílias que expulsam filhos de casa e empresas que demitem funcionários por causa do HIV."
"O mundo mudou muito nesses 40 anos, mas ainda vemos pessoas com diagnóstico tardio e doença grave pelo simples medo de fazer o teste de HIV", relata. "Isso leva ao aumento de mortalidade e também a sequelas de doenças decorrentes da imunodepressão."
De acordo com o Unaids (Programa das Nações Unidas em HIV/Aids), em 2021, 38,4 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV. Naquele ano, o último com dados disponíveis, foram 650 mil mortes.
Desde o surgimento dos primeiros casos, 84,2 milhões de pessoas no mundo foram infectadas pelo HIV e 40,1 milhões morreram por doenças relacionadas à Aids.
Em todo esse período, houve apenas cinco relatos de cura, todos envolvendo o transplante de células-tronco de doadores com uma mutação no gene CCR5 que impede a entrada do HIV nas células.
"Nesta década, esperamos que os medicamentos continuem melhorando, com aumento no intervalo entre as doses e menos efeitos adversos, e principalmente sonhamos com a cura", confessa Madruga.
"Espero presenciar esse momento, ver a cura ser anunciada", diz Khouri.