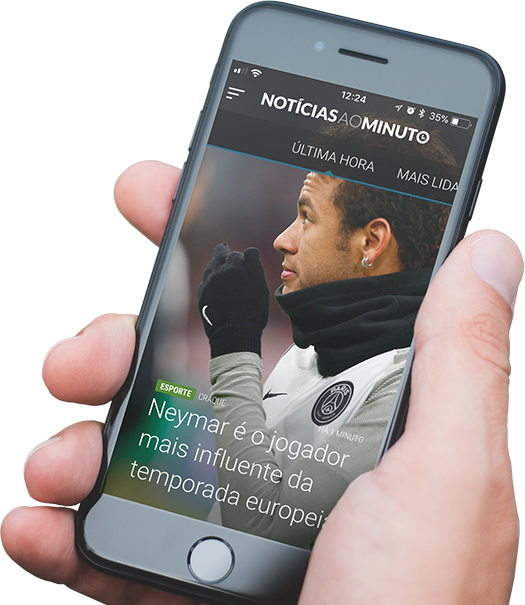É muito difícil para o Ocidente mudar a China, diz especialista
Fundador da consultoria Gavekal Dragonomics, baseada em Hong Kong e Pequim, ele disse ao jornal Folha de S.Paulo por telefone na sexta (26) acreditar que a recuperação chinesa pós-pandemia é "muito sólida"
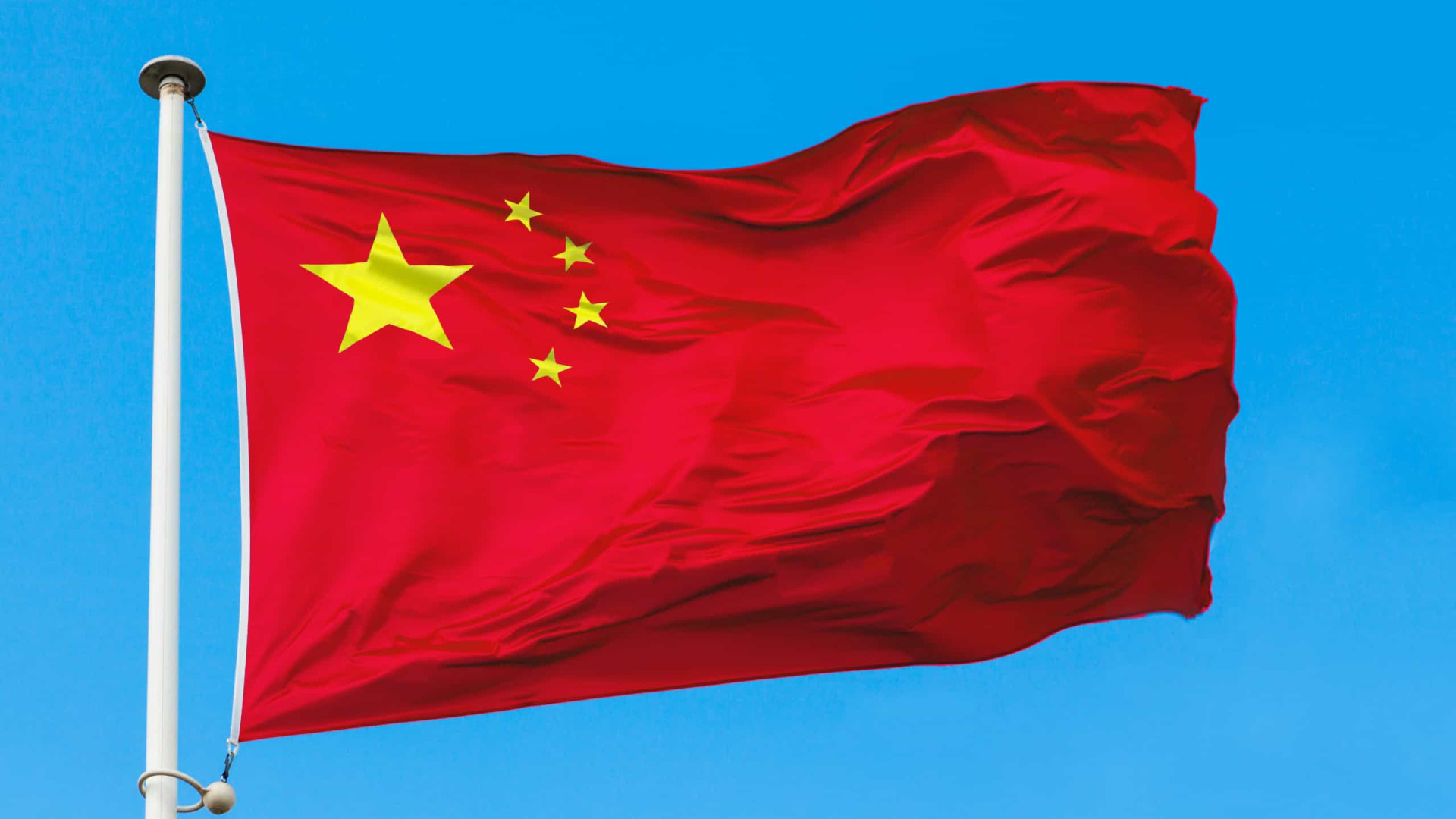
© Shutterstock

Mundo CHINA-GOVERNO
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ocidente não tem muitos instrumentos para mudar a China, o conflito entre Pequim e Washington tende a crescer, mas no fim do dia os interesses econômicos falarão mais alto de lado a lado.
Essa é a avaliação de Arthur Kroeber, um dos mais importantes analistas econômicos norte-americanos quando o assunto é o país de Xi Jinping, acerca das renovadas tensões geopolíticas entre chineses e ocidentais.
Fundador da consultoria Gavekal Dragonomics, baseada em Hong Kong e Pequim, ele disse ao jornal Folha de S.Paulo por telefone na sexta (26) acreditar que a recuperação chinesa pós-pandemia é "muito sólida".
"Eles controlaram a crise muito bem. Não haverá problemas no curto prazo. Em 2020, o PIB cresceu 2,3%, o melhor das grandes economias. Em 2021, eu acho que será de 8% a 9%", afirmou.
No mês passado, durante o encontro anual do Congresso do Povo Chinês, o governo estabeleceu uma meta modesta de 6% de crescimento, para ter espaço fiscal e atacar gargalos estruturais.
"O mais importante é a ideia de criar crescimento com a indução estatal do setor de alta tecnologia. É muito ambicioso, nunca fizeram isso, e potencialmente podem perder muito."
Para Kroeber, "parece fazer bastante sentido focar na tecnologia", apesar dos riscos.
Um dos focos é conquistar independência do Ocidente nas cadeias produtivas de chips, que têm sido alvo de ameaças de interrupção por parte dos EUA.
O economista aponta para o catalisador do processo: a Guerra Fria 2.0 criada por Donald Trump em 2017, na qual todo tema virou motivo de conflito entre americanos e chineses.
"Até há cinco anos, os EUA falavam de forma colaborativa sobre a China. Com Trump, decidiram competir. [O novo presidente, Joe] Biden diz essencialmente a mesma coisa", afirma.
Para ele, "no curto prazo haverá um establishment de segurança nacional querendo desengajar da China, enquanto o mundo dos negócios quer continuar seus investimentos".
Com efeito, a primeira reunião diplomática com os chineses na era Biden, no Alasca há duas semanas, foi marcada por acusações duras e em público.
A interdependência das duas maiores economias do mundo pode ser medida no seu investimento direto mútuo.
Nos últimos 30 anos, empresas chinesas investiram US$ 154 bilhões nos EUA. Na mão inversa, foram US$ 258 bilhões.
Ela é um seguro, acredita Kroeber, contra um cenário de "armadilha de Tucídides".
Criado pelo professor de Harvard Graham Allison, o termo evoca o historiador grego da guerra entre Esparta, então a potência dominante, e Atenas, a ascendente, no século 5º antes de Cristo.
Observando situações semelhantes nos últimos 500 anos, Allison analisa a chance da repetição do conflito na forma de uma guerra entre Washington e Pequim.
"Eu acho muito determinista. Pode haver uma guerra, fria ou quente, claro. Mas ela será só vai acontecer se todos cometerem muitos erros", diz.
Riscos de choques não faltam, no estreito de Taiwan ou no mar do Sul da China. Há assimetrias: além de ter uma economia maior, os EUA têm um gasto militar quase quatro vezes maior que o chinês, por exemplo.
Ele concorda com a avaliação de que a assertividade de Xi, líder cada vez mais autocrático da ditadura comunista que encabeça há nove anos, também pesa na equação.
A repressão aos movimentos democráticos de Hong Kong e o tratamento à minoria muçulmana da província de Xinjiang levaram a um questionamento óbvio no Ocidente.
Afinal de contas, os negócios são feitos com um país acusado até de genocídio pelos seus rivais.
"Mas não acho que é só uma questão com os EUA, é também com a Europa. E a cada vez que dizem que não concordam com [a repressão em] Hong Kong, os chineses contra-atacam", diz o pesquisador.
"No fim do dia, os interesses financeiros são muito grandes. Pode haver um limite para isso, mas há pouco que o Ocidente pode fazer para mudar a China."
Ele aponta, por outro lado, que a questão de valores leva a uma contradição que "só vai crescer".
"Biden está apostando numa política industrial para reconstruir a base americana. Ele pensa 'Como vamos competir?', e diz: 'Investindo nas nossas próprias capacidades'", afirma.
"O mais provável é que ambos os países irão coexistir e, em três ou quatro anos, haja ainda mais interdependência."
Kroeber também vê com ceticismo as iniciativas, do Ocidente e da China, por maior independência tecnológica.
"Creio que não seja possível separar completamente o mundo. Na Europa, por exemplo, a [gigante de telecomunicação chinesa] Huawei está em todo o 4G. E apostar nas fabricantes ocidentais do 5G significa mais custo e prazo", diz.
"A cadeia produtiva tecnológica passa toda pela China. Não acho que seja possível ter um futuro com zero participação chinesa. Países com questões de segurança, como os EUA, vão trabalhar mais por isso e podem ter sucesso local."
Ele ressalva também que, se os produtos da Huawei são tentadores, o modelo de internet autônoma chinesa e sob censura não é algo que se exporte –exceto como ideia para outros regimes autoritários.
Na mão inversa, o plano chinês de chegar à década de 2030 como um líder de mercado de semicondutores parece de difícil execução.
"Nós últimos cinco anos, eles investiram US$ 50 bilhões e vão investir mais. Eles têm uma grande chance de sucesso com chips menos sofisticados", afirma.
Ainda assim, hoje Pequim só tem autonomia para cerca de 25% a 30% de suas necessidades -chips vão em tudo, de celulares a aviões de guerra.
O problema começa com os chips com tecnologia dual, civil e militar. Para produzi-los, são necessárias máquinas americanas, japonesas ou holandesas.
E, desde o ano passado, Washington tem buscado uma política industrial para atrair a principal fornecedora chinesa, a taiwanesa TSCM, para investir nos EUA.
"A habilidade dos chineses está represada. Teoricamente os EUA podem parar tudo, mas aí irão destruir seus interesses também", afirma.
Questionado acerca dos problemas diplomáticos do Brasil com a China, encarnados nas brigas do embaixador em Brasília com os filhos do presidente Jair Bolsonaro, Kroeber é direto.
"Os chineses são muito claros nas suas prioridades. Primeiro os EUA, depois a Europa, os aliados americanos na Ásia. O Brasil está muito no fim da lista", diz.
Para ele, o interesse chinês no Brasil se divide entre investimento direto, como a estatal State Grid fez no setor elétrico, e geopolítica.
No caso, ter um pé no quintal estratégico dos EUA. "Eles querem impedir a criação de uma aliança muito ampla de países contrários à China. Mas fazem isso com muito cuidado", diz. Os americanos vêm fazendo o mesmo com aliados no Indo-Pacífico.
Para ele, o Brasil deveria apostar numa diversificação de sua pauta agrícola, fugindo das commodities básicas e buscando ampliar a paleta com alimentos processados.
Kroeber falará sobre a China pós-pandemia em um seminário virtual do Conselho Empresarial Brasil-China e do Centro Brasileiro de Relações Internacionais às 10h de quarta (31).
Interessados podem se registrar no link http://bit.ly/TheVenture-CapitalistArthurKroeber. A mediação é da colunista da Folha Tatiana Prazeres.

 PORTUGAL
PORTUGAL